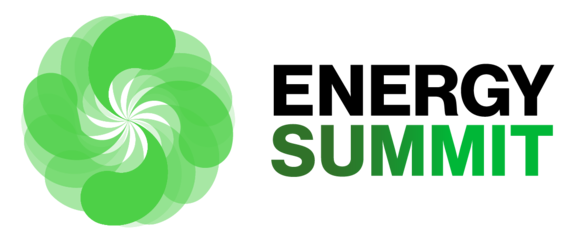Oferecido por
“Durante os trabalhos em grupo na escola, a professora sempre me colocava sozinha. Ela não gostava muito de mim, por isso eu deixei de estudar”, relembra a jovem Amanda, negra, moradora de um assentamento na periferia da Cidade do Cabo, na África do Sul. Ela tem HIV desde quando nasceu, por ter sido infectada pela mãe. O depoimento, mesclando cenas precárias do local onde a menina vive, abre o documentário “More than a pill” (Mais do que uma pílula). O vídeo é fruto do trabalho de doutorado da pesquisadora em Ciências Sociais e Saúde Pública da Stellenbosch University, Lynn Hendricks.
Depois de cinco anos pesquisando HIV e saúde pública, em 2017, quando preparava sua proposta de pesquisa para o doutorado, Lynn percebeu que havia uma lacuna de informações sobre jovens infectados no nascimento. A pesquisadora decidiu investigar o tema e propôs uma metodologia considerada ousada ao sugerir a produção de um documentário em vídeo. “Eu senti que precisávamos fazer de um jeito diferente, porque tudo o que eu tinha visto nas pesquisas era sempre a mesma coisa, uma lista com perguntas. Aquilo não estava dando respostas”, afirma.
O objetivo de Lynn era ter respostas mais ricas sobre o contexto de vida dessas pessoas. “O que descobrimos foi que o ambiente tem um papel muito impactante. Por exemplo, se você vive em uma casa que tem muita gente e não há comida e água para todo mundo, isso interfere em como você se engaja no tratamento. Você pode pensar que a família está se sacrificando com o dinheiro que poderia ser usado para alimentação, e aí você se sente culpada e não toma os remédios, entende? Vai além do que a literatura diz. É a intersecção de tudo”, relata.
O documentário, feito em parceria com a comunidade, teve uma exibição artística para ampliar as conversas com o grupo pesquisado: mulheres jovens vivendo com infecções perinatais de HIV. Esse foi um dos projetos vencedores da edição de 2023 do prêmio “Inclusive Health Research”, promovido pela revista científica Nature Medicine, e que reconhece os pesquisadores que fizeram avanços significativos em diversidade e inclusão com o desenvolvimento de práticas centradas no paciente.
Os autores de cinco pesquisas finalistas foram premiados durante o evento Inclusive Health Research – Building Global Health Equity Together, realizado pela Nature no Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no mês de julho. Para o professor e vice-presidente do Einstein, Fernando Bacal, o fato de a organização ter sido escolhida como anfitriã é representativo, já que é parte da missão do Einstein gerar conhecimento científico com olhar inclusivo.
“É um reconhecimento do trabalho realizado pela instituição na assistência, na pesquisa e na educação, sempre com um olhar em busca de maior equidade na saúde. Em um país com tantas desigualdades, é imprescindível fomentar ações voltadas para tornar a pesquisa em saúde mais inclusiva”, afirmou Bacal.
Meta universal na saúde
O prêmio de pesquisa em saúde inclusiva concedido pela Nature Awards vem ao encontro da maneira como a publicação científica se posiciona a respeito da equidade. Em um texto editorial publicado em 2021, no cenário da pandemia da Covid-19, a publicação chegou a pedir aos cientistas um engajamento mais político para a defesa de ações que melhorassem os determinantes sociais da saúde.
O virologista e editor da Nature, Ben Johnson, que esteve em São Paulo para apresentação dos prêmios, reforça que a equidade deve ser uma meta perseguida por todos. “Populações diferentes têm demandas diferentes. Resolver a iniquidade em saúde é uma questão mundial, especialmente quando a tecnologia e a inovação estão em um momento crucial, que pode resultar em ampliar ou reduzir as desigualdades. Tão importante quanto promover essa discussão é reconhecer projetos. É preciso apoiar a comunidade científica para que possamos superar obstáculos”, avalia.
A escolha dos vencedores foi baseada em três pilares: inovação e melhores práticas de pesquisa em saúde inclusiva, que foram influenciadas pelo envolvimento com comunidades e representantes afetados; apoio e promoção de instituições e indivíduos que contribuem para um ecossistema científico mais diverso; e, por último, a criação e o compartilhamento de uma biblioteca de estudos disponíveis para novas pesquisas.
Outro projeto premiado foi o intitulado “Colaboração Canadense para Saúde de Imigrantes e Refugiados”, da Western University, criado pelo professor Kevin Pottie com a intenção de formar futuros líderes e agentes de mudança em todo mundo. Antes de ser professor, Kevin foi voluntário no “Médicos Sem Fronteiras”. Na universidade, encontrou outro catedrático que tinha tido uma experiência parecida na Cruz Vermelha. “Nós dois tínhamos experiência de campo e queríamos passar isso para os nossos alunos. Sentimos que seria a experiência de aprendizagem mais importante que eles poderiam ter ao iniciar a faculdade de medicina. Não um treinamento médico, mas um treinamento cultural, porque acreditamos ser o primeiro passo para um trabalho de equidade em saúde”, conta.
Os professores desenvolveram um programa para estudantes de medicina envolvendo universidades do mundo inteiro. Até o momento da premiação, 21 instituições haviam enviado, cada uma, dois líderes para o Canadá. O grupo de participantes passa uma semana em apoio à saúde dos refugiados abrigados no país, sendo metade do dia em contato direto com os imigrantes e a outra metade em aulas e discussões clínicas. Ao fim do intercâmbio, os estudantes compartilham o conhecimento adquirido com os colegas em suas respectivas universidades.
O primeiro lugar foi para o projeto HEAlth caRe needs of the Deaf (HEARD), de Uma Palanisamy, professora de bioquímica na Jeffrey Cheah School of Medicine & Health Sciences, da Monash University Malaysia. O trabalho desenvolveu um aplicativo para celular que permite que pessoas com deficiência auditiva tenham acesso a informações de saúde em língua de sinais.
Foram premiados ainda o projeto Caring for Carers (Austrália) – que desenvolve um programa de supervisão clínica para profissionais de saúde mental e apoio psicossocial que trabalham com sírios deslocados no noroeste da Síria e na Turquia, e com população rohingya em Bangladesh –; e The Maori and Bipolar Disorder Research Project (Nova Zelândia) – estudo que olha para condições de saúde mental do povo Maori.
Transformando evidências em políticas e práticas
Além da premiação, o evento da Nature no Brasil reuniu pesquisadores brasileiros para um debate sobre a importância de ter um olhar voltado à equidade no desenvolvimento de pesquisas.
Um dos convidados, o professor e criador do Instituto Akari, Alceu Karipuna — o primeiro de sua etnia a se formar médico —, trouxe a importância da discussão sobre disparidades de saúde para grupos indígenas e como a ciência de dados pode ser uma importante ferramenta para mitigar iniquidades. “Ao mesmo tempo em que você propõe programas do estado, é preciso atuar também na valorização das iniciativas de dentro da comunidade”, afirmou.
Karipuna destacou a necessidade de respeito às tradições de povos originários para que seja possível, de fato, ampliar o acesso à saúde nessas comunidades. “Tem comunidade que recusa médico por ele não atuar com o mínimo de respeito às práticas locais, à logica daquela comunidade”, relata.
O médico ainda lançou uma reflexão sobre ciência de dados e ausência de conteúdo científico sobre comunidades indígenas. Na avaliação do professor, as pesquisas acadêmicas deveriam resultar em melhorias para o povo pesquisado, mas não é o que tem acontecido. O debate acaba ocorrendo no meio acadêmico, sem impactos relevantes nas comunidades. “A partir do momento em que se consegue aquilo que se quer, a pesquisa vai se distanciando do povo indígena”, afirma.
A resolução apresentada pelo Brasil e aprovada durante a 76ª Assembleia Mundial da Saúde, em Genebra, na Suíça, em maio deste ano, coloca a saúde dos povos originários como pauta de prioridade global. O texto traz justamente o fortalecimento da participação social, seja na construção de ações de política pública, seja no desenvolvimento e implementação de pesquisa e desenvolvimento.
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), os povos indígenas representam 6% da população mundial e têm uma expectativa de vida até 20 anos menor que pessoas que não são indígenas em todo o mundo.