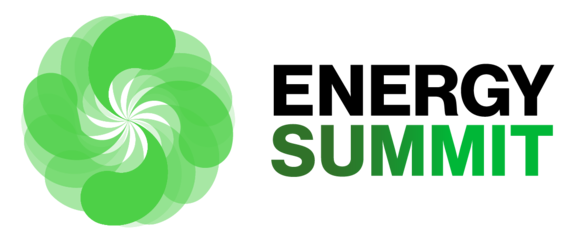Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), nunca brasileiros usaram tanto a Internet como em 2020. O isolamento social gerou e tem gerado mudanças de hábito, digitalizado relações e provocado novos padrões de consumo. Contudo, algumas desigualdades do mundo offline continuam a se reproduzir — ou até mesmo serem amplificadas — no mundo online.
Mas, afinal, o que significa acessar a Internet? Há várias formas de endereçar esse problema. O CGI.br considera que alguém que acesso a internet, por celular ou computador, nos últimos três meses é considerada uma pessoa com acesso à Internet. Mesmo que tenha sido somente uma vez nesse período.
Essa constatação traz à tona a problemática do abismo digital. Esse termo é utilizado dentro e fora do país para descrever de que forma o contexto social, econômico e tecnológico distancia ainda mais as pessoas dos benefícios que a rede tem trazido nas últimas três décadas.
As várias camadas do problema
Quando inventada, a World Wide Web (WWW) de Tim Berners-Lee propunha-se a ser um espaço aberto, livre e neutro. Era uma visão utópica: mesmo sua infraestrutura sendo privada, haveria uma simetria de privilégios para seu acesso, o que promoveria a universalidade de uma aldeia global.
Não é o que acontece hoje. Para além da problemática do acesso à infraestrutura — que ainda mostra abismos entre áreas rurais, urbanas e regiões do Brasil —, há pelo menos outras três barreiras
Só acessa a Internet hoje quem tem dinheiro para pagar. É verdade, o custo da internet no Brasil tem caído de forma exponencial nos últimos anos, mas as pessoas ainda contam seus megabytes no celular para não estourar seus planos. Há quem só acesse redes sociais, já que muitas operadoras oferecem pacotes em que há gratuidade no acesso às principais redes, como Facebook e Instagram. Logo, não estranhe se a maior parte da comunidade brasileira no TikTok, novidade do momento, for branca e de classes mais abastadas…
Esse aspecto é ainda mais delicado quando olhamos o consumo de conteúdo. Cada vez mais ficamos diante de portais de grandes jornais que apresentam pay walls, ou seja, restringem seu conteúdo apenas para assinantes. A descrença no modelo de monetização de publicidade e a busca por conteúdos de qualidade na era pós-Trump do jornalismo são algumas das explicações para isso. Mas se eu não tiver dinheiro para pagar tantas assinaturas? Restam as redes sociais e o WhatsApp que, ainda que se reconheçam esforços das grandes plataformas, estão cheios de conteúdo radical e fake news.
E se você reclamou que vai ter que assinar mais um serviço de streaming que chegou ao Brasil, possivelmente você também faz parte do grupo que nunca viu um clipe do Kondzilla ou um vídeo do Whindersson Nunes — duas expressões culturais incríveis e ricas de significado, mas que cada vez mais explicam as diferenças no consumo de entretenimento entre os mais ricos e os mais pobres.
Claro, há também uma barreira de alfabetização digital. Das pessoas que não acessam a internet, 53% dizem não ver necessidade e 72% apontam falta de habilidade para mexer num dispositivo. Faltou e ainda falta uma política séria de conscientização sobre os benefícios de seu uso, ou todas as iniciativas que visem a digitalização de documentos no Brasil serão, afinal, excludentes.
Mas mesmo dentro de quem acessa a internet, há diferenças abissais. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com todos os seus méritos e valores, ainda é uma legislação que vai impactar primeiro uma camada muito pequena da população —que sabe o que é um cookie, que se importa em controlar os seus dados e, muitas vezes, preferiam pagar para terem um serviço supostamente sem uso de dados.
Por fim, é preciso reconhecer que os benefícios da internet não são apropriados da mesma maneira entre quem acessa a rede, ou seja, se as pessoas não podem exercer suas capacidades e liberdades substantivas. Essa camada, a de apropriação é a mais abstrata de todas, mas vale um ótimo exemplo: o que adianta uma pessoa ter acesso à internet, poder pagar, saber mexer, se não consegue expressar sua opinião em redes sociais?
Claro, essa realidade parece mais como funciona a lógica de Estados controladores como Irã e China. Contudo, entre fazer uma publicação para sua bolha de amigos e fazer uma publicação aberta numa rede social, muita gente hesita, tem medo. Pois expressar-se politicamente, por meio de sua palavra, seu corpo, sua raça ou da sua religião atrai cada vez mais um exército de radicais, que usam as redes para denegrir, difamar, fazer os outros sentiram vergonha de serem quem são.
Entre utopias e distopias, qual a solução?
Longe de proclamar uma sociedade digital distópica — filmes como “O Dilema das Redes” já desinformam o suficiente neste sentido —, mas é preciso reconhecer que, por mais que a rede ainda seja um espaço público, é também uma rede de ambiguidades. Se há euforia empreendedora, há também concentração econômica; para cada plataforma que promove o exercício da democracia, há também bots que espalham fake news e discursos de ódio. E para cada novo fenômeno da internet, há também comunidades inteiras que sequer sabem que a internet é mais do que as redes sociais.
Claro, sempre vamos buscar culpados — essa é a essência do techlash vendido pelo entretenimento. Mas nada pode estar tão errado: propor soluções binárias, em vez de assumir toda a complexidade institucional e incapacidade normativa que envolve a internet, é a alternativa covarde. Desconsiderar o quanto os gigantes da internet também contribuíram para avanços econômicos e sociais neste século não é uma constatação científica, mas um ato político.
A Internet possui hoje múltiplas camadas de significação, com relações complexas que não são tão visíveis de imediato. É um mundo dentro de outro universo, espelhando o que temos do lado de fora e amplificando aquilo que temos de melhor e de pior. Será muito difícil propormos uma política pública sobre a internet de forma coesa e sólida se ficarmos somente nos extremos da utopia e da distopia, pendendo para um ou outro de acordo com os ventos.
O desafio não é simples. Mas ninguém disse que seria.